"1917", de Sam Mendes
Beleza Americana anunciou o surgimento de um realizador ousado, contudo, Sam Mendes nunca conseguiu concretizar a promessa dessa sua primeira longa-metragem por completo. A Máquina Zero e Revolutionary Road faltava a ressonância emocional das suas ambições e Skyfall limitava-se a repetir momentos e desenvolvimentos de O Cavaleiro das Trevas, do seu conterrâneo e contemporâneo Christopher Nolan, resumindo-se a um mero exercício de copy and paste que pouco ou nada possuía de entusiasmante. Felizmente, é mesmo com 1917 que tudo muda e o britânico volta a evidenciar traços do autor que pensamos que poderia ser. Desta feita, Mendes inspira-se nas histórias que o avô Alfred H. Mendes lhe costumava contar e por múltiplos documentos encontrados no Museu de Guerra Imperial para conceber um arrojado projeto cinematográfico: encenar a via sacra de um duo de soldados numa missão que os vai levar até um inferno terreno num plano-sequência que nunca é quebrado. Assim, Mendes e Roger Deakins (veterano e lendário diretor de fotografia) cronometraram meticulosamente todas as variáveis, desde o ritmo dos diálogos aos passos necessários para que os atores sejam capazes de percorrer uma determinada distância (contemplando ainda questões adicionais como a largura e comprimento das trincheiras à articulação da equipa que manuseia os equipamentos), de maneira a compor um plano contínuo e imersivo que não evidencie um único corte.
Estamos em abril de 1917 e a Primeira Grande Guerra (1914-1918) encontra-se no seu auge, quando Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman), dois jovens soldados britânicos, são encarregues de uma missão urgente: atravessar território inimigo e entregar, em mãos, uma mensagem que salvará a vida dos 1600 homens que incorporam o segundo batalhão do Regimento Devonshire, onde também se conta o irmão de Blake. A missiva menciona a necessidade de abortar o ataque do dia seguinte às forças alemãs, que já sabendo o que os espera, planearam uma emboscada. No entanto, como senão fosse suficiente terem de enfrentar o inimigo pelo caminho, o duo tem ainda como obstáculo o tempo. Acontece que, os dois têm somente um par de horas para chegar aos seus companheiros de armas e o terreno traiçoeiro e quase pós-apocalíptico na sua devastação não será misericordioso para com eles… Sempre no seu encalce, seguimos pelas trincheiras, rios, cascatas, lagos lamacentos e crateras, juntamente com os nossos “parceiros”, partilhando a sua ansiedade e choque perante a sombra de morte que paira sobre os seus corpos.
Ao encenar a narrativa em tempo real, Mendes compromete-se a nunca nos dar um momento de descanso e não haja dúvida que não falta ao prometido, 1917 é um mergulho profundo nos horrores da guerra, que deixa o espetador com o coração nas mãos e os olhos bem abertos, atentamente a tentar identificar que elemento isolado pode revelar-se problemático a seguir. Seja o som de um disparo ou um avião que se despenha, a situação é extremam ente hostil e até os elementos parecem querer estender o infortúnio dos protagonistas. Claro está, que a estrutura narrativa do filme partilha múltiplas semelhanças com a de um videojogo, contudo, Mendes nunca deixa que as personagens sejam reduzidas a meras vítimas numa amalgama de aconteci mentos sanguinolentos, mantendo-se sempre próximo da humanidade dos envolvidos e, por isso, entende-se que o momento mais intenso seja também o mais solene, quando Schofield emerge das águas de um rio e é momentaneamente hipnotizado por um rapaz como ele, que canta para um batalhão pronto a marchar em direção à morte certa. É nesses breves segundos que o britânico nos transmite com mais acutilância a melancolia daquela geração quase inteiramente perdida à custa de um conflito como o mundo, à data, nunca teria visto.
Texto de Miguel Anjos
Realização: Sam Mendes
Argumento: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns
Elenco: Dean-Charles Chapman, George MacKay, Colin Firth, Andrew Scott, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, Adrian Scarborough, Richard Madden



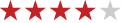
Comentários
Enviar um comentário