"A Origem", de Christopher Nolan
Tudo indica que Christopher Nolan vai voltar aos cinemas mundiais no final do presente mês de agosto com o seu novo devaneio, Tenet. O que, escusado será dizer, constitui um acontecimento muitíssimo importante, especialmente, num ano marcado pelo surgimento de uma ameaça que mergulhou o mundo no pânico e histeria. Portanto, enquanto aguardamos pelo dia 26 de agosto, nada melhor do que aceitar o convite da Warner e redescobrir um dos feitos mais emblemáticos da carreira do autor britânico, com o relançamento de A Origem, o thriller onírico que se tornou num fenómeno junto do público e crítica, chegando mesmo a colocar o seu realizador na corrida aos Óscares, acabando por perder Melhor Filme para o anónimo O Discurso do Rei (que, volvidos 10 anos, nem voltou às salas, nem deve ter voltado aos leitores de DVD de ninguém).
Mas, porquê tanta euforia em torno de um filme que, ainda por cima, muito boa gente acusa de ser meramente uma cópia menos interessante da obra de culto Paprika (2006)? O que se passa é que, embora reconheçamos facilmente as influências que se encontram na base da construção de A Origem e até possamos conceder que a obra de Nolan não é tão aventureira como a maioria delas, não há como negar que está aqui um dos melhores exemplos dos chamados blockbusters que Hollywood nos deu em tempos recentes. Afinal, estamos perante uma aventura comovente, empolgante e intrigante que, mesmo operando dentro dos limites daquilo que encaramos como sendo “cinema espetáculo”, nunca cede às convenções mecânicas que nos habituámos a tolerar nestas grandes produções.
O resultado é um exercício de engenho pronto a ser experienciado, interpretado e, porque não, encriptado, possuidor de um terceiro ato verdadeiramente impressionante a culminar numa das conclusões mais impactantes da década passada, cuja ambiguidade ainda desencadeia muitos e acessos debates. Não tenhamos dúvidas, à semelhança do que havíamos constatado com outros títulos de Nolan como Memento e O Cavaleiro das Trevas, também A Origem mantém o charme e a ousadia de outrora, quer pela conceção circense da realização, quer pela estética de epopeia, entretanto, copiada até à exaustão. Está aqui, porventura, o equivalente do Tubarão, de Steven Spielberg para os tempos modernos. Quer se queira, quer não, Christopher Nolan revolucionou a forma como se fazem e vendem filmes para massas, sem nunca desprezar o seu intelecto no processo.



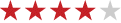
Comentários
Enviar um comentário